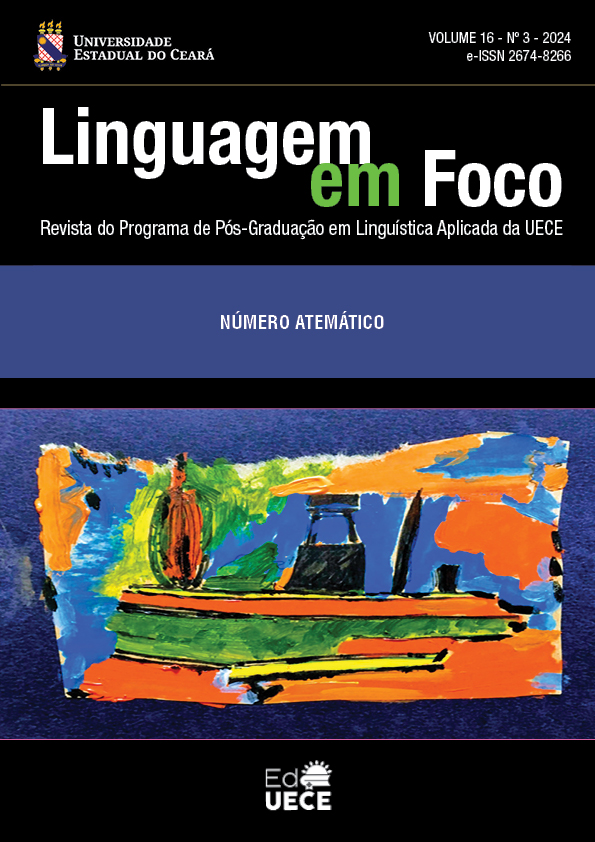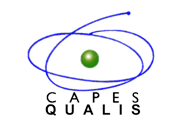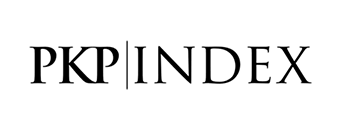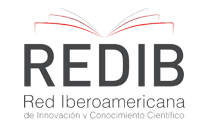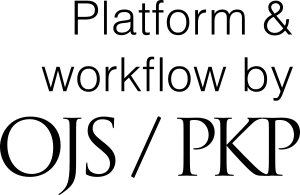O ChatGPT e a morte da honestidade criativa na produção textual na sala de aula da Educação Básica
um estudo de caso com alunos/as do primeiro ano do EM
DOI:
https://doi.org/10.46230/lef.v16i3.13561Palavras-chave:
inteligência artificial, produção textual, educação linguísticaResumo
O presente artigo surgiu a partir de um estudo de caso (Yin, 2010) de um relato vivenciado em uma escola da rede pública de ensino do estado de Mato Grosso do Sul, com uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, durante as aulas de língua portuguesa, em março de 2024. A atividade proposta aos estudantes envolvia a produção de poemas voltados para a temática da mulher. Nos 32 textos entregues pelos alunos foi detectado, pela docente da turma, o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), especificamente do ChatGPT, em 13 deles. Tendo isso em vista, este trabalho objetiva analisar algumas das produções de poemas feitas pela IA, de modo a apontar certas regularidades e ocorrências nos textos, além de traçar uma comparação com as produções realizadas, de fato, pelos alunos. Para isso, utilizamos como arcabouço teórico as pesquisas a respeito das concepções de IA (Santaella, 2023), do uso de tecnologias no ensino de línguas (Martins; Moreira, 2012), bem como estudos sobre os gêneros textuais e produção textual na escola (Schneuwly; Dolz, 2004). Como resultado, pontuamos que a IA na produção de texto, sobretudo do cânone literário, possui limitações em alguns aspectos como, por exemplo, a subjetividade do conteúdo produzido e a perpetuação da forma baseada em rimas, apenas - o que exclui outras possibilidades de construção do poema. Sublinhamos a necessidade de os professores serem formados para essas novas tecnologias, e não apenas sobre, visando um olhar crítico e reflexivo acerca das possibilidades e limitações da IA na escola e na educação linguística contemporânea. Reconhecemos, por fim, que muitos docentes já estão em atuação, logo, uma formação continuada também se coloca como uma alternativa viável, pensando nessa realidade exposta.
Downloads
Referências
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CINEMA E DA CULTURA (AACIC). Festival da Juventude – Literatura, Livro e Leitura. 2024. Disponível em: https://aacic.com.br/festivaldajuventude/2024/. Acesso em: 22 abr. 2024.
BENZON, W. GPT-3: Waterloo or rubicon? Here be Dragons. Cognitive and Neuroscience, v. 4, n. 1, p. 1-39, ago. 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/343444766_GPT3_Waterloo_or_Rubicon_Here_be_Dragons. Acesso em: 01 mai. 2024.
BODEN, M. Inteligência artificial: uma brevíssima introdução. São Paulo: Editora Unesp, 2020.
BOA SORTE, P.; FARIAS, M. A. de F.; SANTOS, A. E. dos; SANTOS, J. do C. A.; DIAS, J. S. dos S. R. Inteligência artificial e escrita acadêmica: o que nos reserva o algoritmo GPT-3?. Revista EntreLinguas, Araraquara, v. 7, n. 00, p. e021035, 2021. DOI: 10.29051/el.v7i00.15352. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas/article/view/15352. Acesso em: 22 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 jan. 2025. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2025/lei-15100-13-janeiro-2025-796892-norma-pl.html. Acesso em: 26 jan. 2025.
BUCKINGHAM, D. Media education: literacy, learning and contemporary culture. Cambridge Press, 2003.
BUCKINGHAM, D. The media education manifesto. Cambridge, Londres: Polity Press: 2019.
CHAPELLE, C. A. Computer assisted language learning. In: HINKEL, E. (ed.), Handbook of research in second language teaching and learning. Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 2005, p. 743-755.
DUDENEY, G.; HOCKLY, N. How to: teach English with technology. Essex, Pearson Education Limited, 2007.
DUQUE-PEREIRA, I. da S.; MOURA, S. A. de. Compreendendo a inteligência artificial generativa na perspectiva da língua. In: SciELO Preprints, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.7077. Acesso em: 02 mai. 2024.
EGBERT, J. CALL Essentials: principles and practice in CALL classrooms. Alexandria, Teachers of English to Speakers of Other Languages, 2005.
GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
HUBBARD, P. General introduction. In: HUBBARD, P. Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics. London, Routledge, 2009. p.1-20. Disponível em: http://www.stanford.edu/~efs/callcc/callcc-intro.pdf. Acesso em: 29. abr. 2024.
JÚNIOR, C. F. de C.; CARVALHO, K. R. S, dos A. de. Chatbot: uma visão geral sobre aplicações inteligentes. Revista Sítio Novo, v. 2, n. 2, p. 68-84, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.47236/2594-7036.2018.v2.i2.68-84p. Acesso em: 23 abr. 2024.
LEVY, M.; HUBBARD, P. Why call CALL “CALL”? Computer Assisted Language Learning, v. 18, n. 3, p. 143-149, 2005.
MARTINS, C. B. M. J.; MOREIRA, H. O campo CALL (Computer Assisted Language Learning): definições, escopo e abrangência. Calidoscópio, v. 10, n. 3, p. 247-255, set/dez 2012. DOI: 10.4013/cld.2012.103.01. Disponível em: https://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/3254. Acesso em: 28 abr. 2024.
McCARTHY, J. What is Artificial Intelligence? In: Stanford Computer Science, 2007. Disponível em: http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf. Acesso em: 22 abr. 2024.
NILSSON, N. The quest for artificial intelligence: a history of ideas and achievements. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
REIS, S. C. dos. As tendências teóricas em estudos de CALL no Brasil: identificando o estado da arte. In: Encontro do cel-sul, 8, Porto Alegre, 2008. Porto Alegre, 2008, p. 1-21. Disponível em: www.celsul.org.br/Encontros/08/estudos_de_call. pdf. Acesso em: 29 abr. 2024.
RUSSEL, S. J.; NORVIG, P. Artificial Intelligence: a modern approach. New Jersey. Prentice Hall, 2021.
SANTAELLA, L. Balanço Crítico Preliminar Do Chatgpt. Revista FAMECOS, v.30, n.1, e44380. 2023. DOI: https://doi.org/10.15448/1980-3729.2023.1.44380. Acesso em: 28 abr. 2024.
SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. ROJO, R.; CORDEIRO, G. S. (Orgs.). Campinas: Mercado de Letras, 2004.
TAULLI, T. Introdução à inteligência artificial: uma abordagem não técnica. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2020.
YIN, R. K.Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Fernanda Victória Cruz Adegas, Luclecia Silva de Almeida Matias, Patrícia Graciela da Rocha

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Os autores que publicam na Linguagem em Foco concordam com os seguintes termos:
- Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação. Os artigos estão simultaneamente licenciados sob a Creative Commons Attribution License que permite a partilha do trabalho com reconhecimento da sua autoria e da publicação inicial nesta revista.
- Os conceitos emitidos em artigos assinados são de absoluta e exclusiva responsabilidade de seus autores. Para tanto, solicitamos uma Declaração de Direito Autoral, que deve ser submetido junto ao manuscrito como Documento Suplementar.
- Os autores têm autorização para disponibilizar a versão do texto publicada na Linguagem em Foco em repositórios institucionais ou outras plataformas de distribuição de trabalhos acadêmicos (ex. ResearchGate, Academia.edu).