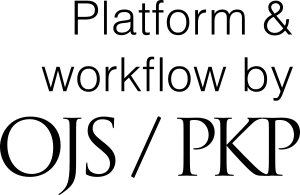Idioma
tamanhoFont
Informações
Enviar Submissão
Desenvolvido por
Palavras-chave
Similary


DORA
Signatário DORA
Declaração de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa
Artigos mais lidos
-
2435
-
2353
-
1959
-
1295
-
1178
-
1022
-
1005
-
809
-
696
-
646
-
630
-
618
-
606
-
600
-
576
-
563
-
523
-
466
-
435
-
425
Revista Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
e-ISSN: 2675-519X | Prefixo DOI: 10.47149 Universidade Estadual do Ceará – UECE
Av. Dr. Silas Munguba, 1700 - Campus do Itaperi
Fortaleza - CE, CEP: 60714-242
A Revista Práticas Educativas, Memórias e Oralidades está licenciada com Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.

ISSN: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2675-519X#
Baseado no trabalho disponível em https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/index.